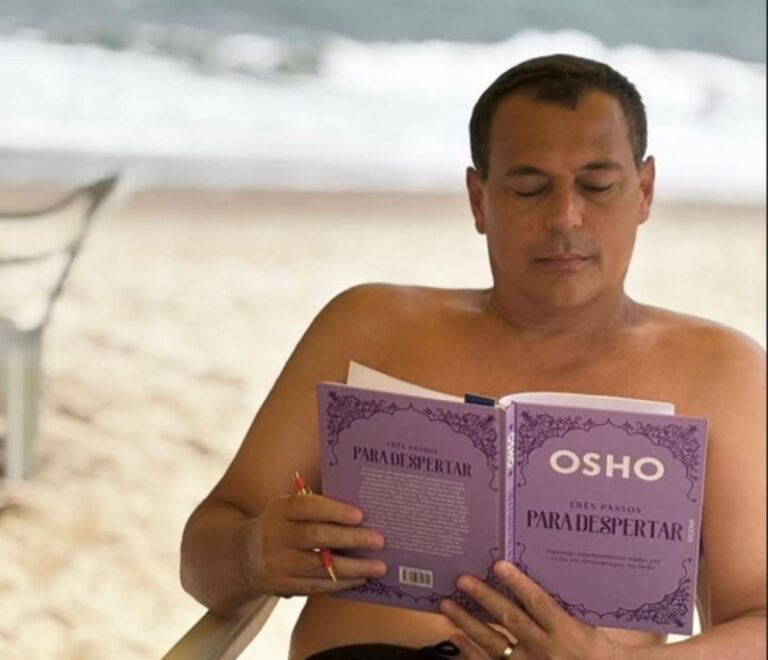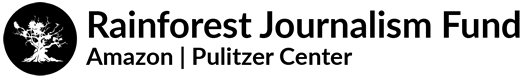A combinação entre a pandemia e o renascimento dos psicodélicos na ciência fez surgir uma prática até então pouco usual entre os brasileiros: as microdoses de substâncias psicodélicas. Muitos buscam nessas pequenas porções grandes resultados, seja para melhorar a performance e a cognição, ou questões de saúde mental. Apesar de existirem aqueles que fazem uso isolado, há também os que estão inseridos em grupos que buscam experimentações de tecnologias biomédicas: os biohackers.
O assunto é tema de um painel do webinário “Pensando o Biohacking no Brasil: Desafios e Perspectivas”, que será realizado nos dias 1 e 2 de março, a partir das 18h, promovido pelo departamento de política científica e tecnológica da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e pela Ufersa Universidade Federal Rural do Semi-Árido). Com exibição pelos canais do Instituto de Geociências da universidade e da Biohacking Brazil Conference, no YouTube, a ideia é refletir sobre as implicações culturais e sociais do movimento no país.
“O biohacking advém da cultura hacker, que passa a ganhar destaque a partir da década de 1990, com a evolução da internet, sobretudo no Vale do Silício. É possível situar as narrativas do biohacking a partir da metáfora do ciborgue, no sentido de questionar as fronteiras entre o corpo e a tecnologia, tal como preconizado pela filósofa Donna Haraway”, explica Juliano Sanches, doutorando em política científica e tecnológica da Unicamp e um dos organizadores do evento. “A microdosagem de psicodélicos é uma das práticas realizadas pelos biohackers.”
Como lembra o pesquisador, as pessoas que fazem essas experimentações — que, para além das microdosagens, também incluem práticas que vão desde implantes de biochips até o uso de tecnologias vestíveis — buscam soluções mais acessíveis e com mais autonomia para suas necessidades médicas. Trata-se, portanto, de uma alternativa aos altos custos e as limitações do mercado mainstream de saúde, fazendo do próprio corpo um laboratório.
O surgimento da microdose
Por conta da essência libertária, a prática da microdosagem de substâncias como ayahuasca, psilocibina e LSD encontra terreno fértil no movimento biohacking.
A ideia de que pequenas doses de substâncias expansoras da consciência possam produzir efeitos terapêuticos já havia sido pensado pelo próprio Albert Hoffman, o cientista suíço que sintetizou o LSD pela primeira vez em 1938. O pesquisador chegou a sugerir que doses baixas de LSD pudessem ser usadas como uma alternativa à Ritalina, mas a proposta foi negada pela farmacêutica em que trabalhava, a Sandoz.
O psicólogo norte-americano James Fadiman se inspirou nessa ideia e lançou, em 2011, a obra “The Psychedelic Explorer’s Guide”, na qual introduz, pela primeira vez, o conceito de microdosagem a um público que não estava familiarizado com o tema. Desde então, relatos de pessoas que descreviam melhoras no humor, foco e criatividade — sobretudo, mais uma vez, no Vale do Silício — impulsionam o interesse pelas microdoses.
Apesar de haver um número cada vez maior de estudos sobre psicodélicos, grande parte se dedica a observar os efeitos de experiências completas, com altas doses das substâncias. Logo, há uma escassez de trabalhos científicos que expliquem as melhorias relatadas pelo uso de microdoses.
Em uma revisão sistemática feita no PubMed, a principal base de dados da literatura biomédica, o psicofarmacologista Lucas Maia encontrou 26 publicações científicas sobre o tema, publicadas entre 2019 e 2021, demonstrando como o interesse pela questão é recente.
“O que me motivou a escrever sobre isso foi o fato de escutar repetidamente as duas perguntas que quase todos que se interessam pelo assunto querem saber, inclusive os cientistas: ‘Microdoses funcionam?’ e ‘os efeitos são oriundos da substância ou do efeito placebo?’”, escreveu o pesquisador em um artigo publicado na Psicodelicamente.
“Com base nos estudos que analisei, as respostas rápidas para essas perguntas são: a microdosagem produz efeitos, mas ainda não sabemos precisamente se os efeitos são derivados de expectativas (efeito placebo), efeitos farmacológicos ou ambos.”
Psicodélicos não são panaceia
É importante ainda refletir sobre a existência de riscos associados. O pesquisador Juliano Sanches aponta que os aspectos de segurança e legalidade dessas práticas devem ser observados porque esbarram em questões éticas e regulatórias. “Essas práticas, muitas vezes, não são realizadas em ambiente clínico e de pesquisa, nem são acompanhadas por um profissional de saúde ou pesquisador”, aponta.
Além disso, a popularidade do assunto pode soar, para alguns, como uma permissão para o uso indiscriminado dessas substâncias. Mas os psicodélicos não são pílulas mágicas. Pessoas com diagnóstico de esquizofrenia ou bipolaridade, por exemplo, podem ter os sintomas dos transtornos agravados.
Ainda assim, na visão de pesquisadores como Sanches, a proibição pode ter um efeito contrário, fazendo aumentar o interesse pelo uso. “Portanto, os fóruns e eventos públicos, em que se discutem aspectos de segurança e aspectos éticos, podem ser uma forma mais efetiva de trabalhar os riscos”, acredita.
Não à toa, entre as políticas públicas defendidas pelos biohackers está a flexibilização de acesso não só aos psicodélicos, mas também aos canabinoides, derivados da maconha.
“Os biohackers defendem a regulamentação da produção de matéria prima dessas substâncias dentro do território brasileiro, o que garantiria aos pacientes acesso ao tratamento fora do mercado mainstream de saúde, sem a preocupação de adquirir produtos de qualidade questionável.
Além disso, esse esforço poderia maximizar a pesquisa e o desenvolvimento de novas terapias a partir dessas substâncias”, acredita Sanches. “O movimento biohacker portanto aparece como uma voz importante na defesa da autonomia em relação ao uso de psicodélicos.”